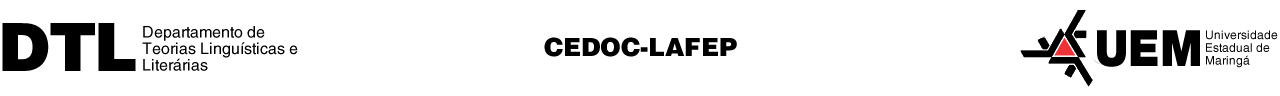Fragmentos
MENINA
Clara, Débora, Denise. Qualquer um.
Lara, Joana, Renata. Talvez Milena.
Andressa. Carolina. Mariana, Luíza, Cristina.
Paloma. Patrícia. Priscila
Escolher um nome era uma liberdade gigantesca, ainda que dolorida. Mas talvez toda liberdade seja assim, meio satisfação, meio dor. Vai saber.
Ela suspira um pouco olhando para o teto. Queria que a vida fosse simples como nos filmes que tanto assistia agora que muita gente havia se afastado e seu tempo sozinha se estendia. Uma tia disse que era normal, mas ela não achava normal, não. Onde as amizades eternas? A Veruska estava sempre com ela e agora... cadê? As meninas da escola, os meninos da rua. Tudo sumido no momento mesmo em que a barriga ficou impossível de esconder.
Já estava de nove meses. Deitava com os pés para cima para desinchar um pouco, quase sempre sem muito sucesso. Enquanto isso, lia um livro da escola – estava no último ano. Se se esforçasse, talvez conseguisse terminar, mesmo com a criança, mesmo com tudo o que vinha junto. E entre um capítulo e outro de Geografia ou História, entre uma conta e outra de Matemática ou Física – Letícia, Luana, Larissa – tentava achar um nome para aquele corpinho de menina que crescia dentro de si.
Tentava também criar uma narrativa sobre o pai que nunca mais entrou em contato. O da bebê, pois o seu próprio nunca esteve tão presente. Silencioso e grande, um olhar duro caindo sobre ela todas as vezes que se cruzavam pelo corredor da casa.
Conhecera o rapaz pela internet. Relacionavam-se à distância. Mas um dia ele decidiu visitá-la e deixou algo que ela não pôde recusar, não soube recusar, não conseguiu. Afinal, era algo que ela sequer sabia que havia recebido. Acordou no dia seguinte com um vazio estranho no peito, sentindo, com um quê de tristeza, que o clima havia mudado. Colocou uma blusa e ficou olhando para as pessoas que passavam em frente ao seu portão, os séculos passando rápido. O clima havia mudado.
O rapaz começou a se afastar. Demorava para responder mensagens, não atendia telefonemas. No fim do mês, quando tentou ligar pela última vez, teve certeza de que ele havia trocado de número. Chorou, se desesperou, emagreceu. Depois foi acostumando: o tempo cicatrizaria.
Mas ela teve um enjoo e, então, atrasos. Descobriu que seria mãe. E fizeram questão de que descobrisse também que tudo o mais em sua vida seria modulado por esse fato: seus passeios, suas escolhas, sua alimentação. Os relacionamentos. As roupas. Tudo seria visto e revisto, analisado e julgado a partir de sua nova identidade:
Mãe.
Como se não fosse mulher.
Como se não pintasse vaidade.
Como se não fervesse desejo.
Como se não prostrasse cansaço.
Ela seria mãe. Uma mãe que não sabia onde o pai da criança estava, que fora abandonada como uma coisa gasta. O pai sequer sabia que seria pai – e ela não tinha certeza se queria que ele soubesse mesmo. Por isso, escolhia também um nome para um pai imaginário. Marcelo, Maurício, Murilo. Alguém que fosse bom, doce, companheiro, mas que – uma pena! – havia morrido num acidente de moto, carro, avião. Helicóptero talvez, mais dramático.
Podia até mudar a narrativa a cada vez que contasse. Será que faria diferença? Tudo que sua menina precisava estava ali: a mãe. O resto era acessório. Só ela seria fundamental.
Tinha medo do próprio futuro. Havia de encontrar pessoas que não quereriam estar com ela por ela ser mãe sozinha – mãe solteira, eles dizem. Outras pessoas se aproveitariam de sua fragilidade emocional. Ela sabia, não era estúpida. Viu acontecer com uma colega de sala no ano anterior, viu acontecer com uma vizinha. As histórias podiam variar no começo – as narrativas de abandono são sempre renovadas – mas a sequência era a mesma: mulheres solitárias e quebradas por dentro. Tudo o mais era decorrência.
Tinha arrepios ao pensar nisso e voltava a se concentrar no livro. Meia hora depois, Jéssica, Janaína, Juliana. Um movimento na barriga, uma pontada nas costas. E a grande angústia de não ser mais uma pessoa inteira. De ser duas, mas não ser nem meia. Olhava para o grande espelho da sala sempre que passava por ele. Não reconhecia seu rosto, seu corpo. Parecia uma qualquer coisa outra que não fosse um si mesma, qualquer coisa estranha em que ela parecia que nunca mais se encaixaria. No espelho, ela pairava acima ou em volta desse corpo que já não era o seu. Chegava a ter medo de esquecer quem fora um dia, tão descolada que estava de si.
Ela não queria se perder nos caminhos. Não queria se esquecer de quem era. Desconhecia se isso era possível, mas tinha um medo e uma angústia desesperada. Queria ser um bicho-mãe, mulher-onça, rodeando a cria, sempre inteira, sempre forte. Só não sabia ainda como fazer isso. Talvez existisse algum botão, algum código. Talvez precisasse de uma senha que pudesse digitar e desbloquear essa nova função de si. Só não podia deixar de ser mulher.
Bruna, Bianca, Beatriz. Daiana. Daniela. Não tinha idade, não tinha preparo, não fizera nada da vida até então. Não era justo que fosse assim, não era justo que de repente ela tivesse que tomar a própria vida nas mãos e saber bem direitinho o que fazer com ela. Nem sabia bem o que queria da vida já tinha sido instada a cuidar dela toda. Como?
Yara, Yasmin, Yeda. A mãe se amansaria um pouco quando visse a cria da filha. Já estava quase amável, faltava pouco para mostrar o coração – ele estava ali, só um pouco amargado de ver a filha numa vida que ela, como mãe, não havia desejado. Mas eram ligadas pelo sangue que correu de uma para a outra, não havia como aquela picuinha se manter por muito tempo. A mãe logo amansaria.
Tatiana, Tamires, Tereza. De repente uma dor mais forte puxa por dentro, rasga por dentro. É angústia?
É a criança.
Ela quer brotar. Um pouquinho antes da data planejada, mas a menina deve querer ajudar sua mãe a resolver todas essas dúvidas, muita coisa sem resposta para uma mulher que ainda é tão criança.
Todo mundo corre para o carro, hospital agora, a mãe já começa a chorar, o pai quase emana carinho e ela, de repente, acha que tem sorte. A colega de classe foi expulsa pelo pai, e o seu, ainda que duro, estava ali, dirigindo o mais rápido que podia, olhando pelo retrovisor para ver se estava tudo bem. Não era o que ela queria, mas era sorte. Sabendo como as coisas são, podia ter sido bem pior.
No carro, cheia de dor, o medo agarrou mais forte. Agora ia ser mãe de verdade. Não dava para adiar. Segurou apertado a barriga como se pedisse para sua menina ficar ali mais um pouquinho, até que ela entendesse, até que ela se acostumasse, até que ela estivesse pronta para começar a lutar para ser o que ela pensou que seria sempre, mulher, mulher, mulher, eu sou mulher, continuo sendo mulher! E segurava a barriga, confusa, pois sabia que a menina queria ser menina também, estava cansada de ser um bichinho guardado no ovo, era hora de respirar.
Lutava durante o trajeto até o hospital, cheia de dor, cheia de grito. E nem sabia o nome da menina. Era Denise, e dor, Cecília, e dor, era Luana, e dor, era Vitória, Valquíria, Verônica, dor, dor, dor. O corpo todo crescendo e pulsando sozinho, contraindo e dilatando contra a vontade, mostrando seu lado mais carne, seu lado mais sangue, o lado mais instintivo de si. Reverberando. Era Renata, era Marcela, era Ana, Ana, Ana. Ah! Era Ana. E era um bichinho tão bichinho que ela não sabia como podia ser daquele jeito, se movimentando daquele jeito, existindo. Deu leite, deu afeto. E lançou um cansado olhar de bicho sobre todas as coisas.
***
SAL PARA CARAMUJO
Ela não tinha bons modos. Ria alto, não cruzava as pernas quando se sentava, estava sempre no meio dos meninos, com os pés sujos e os cabelos revoltos. Juntos, contavam piadas, pescavam, caçavam rolinhas. Subiam em telhados, empinavam pipa, andavam de skate e carrinho de rolimã. Ela não tinha bons modos, chupava os dedos sujos de chips, limpava a boca nas costas da mão. Bebiam todos no bico da mesma garrafa de tubaína. Ela tinha os joelhos sempre marcados das vezes que caía, coçava as picadas de inseto até formar ferida. Ela não tinha bons modos, fazia bolinha com catota do nariz, colava chiclete embaixo da carteira da escola. Para correr, ela era jaguar. Para escapulir, rã. Para pensar, raposa. Para observar, coruja. Era bicho, uma corsa saltitante, dona da floresta e da rua. Mas um dia baixou a defesa por um momento e um rapaz mais velho, primo de um dos amigos, conseguiu chegar perto dela no meio de um jogo de futebol. Seu pelo felino arrepiou-se quando percebeu, esquiva e fugidia, que ele olhava para o contorno dos seios pequenos que se insinuavam pela abertura da sua regata. Constrangida, consternada, se desconcentrou. Ele vinha para uma dividida, o corpo todo agitado. Ela arisca. Ele pegou-lhe o braço e, com o indicador e o médio, roçou a parte de baixo de sua axila, bem perto do seio. Puxou-a para perto, os rostos muito próximos, o hálito quase no seu hálito. Ela perdeu a bola, mas não pediu falta. Para caramujo que era, aqueles dedos foram feitos de sal. Ela desmanchou-se toda líquida pela inocência roubada. Em um salto para trás, fugiu em disparada para casa, raposa magoada depois de ser atingida de raspão. A proximidade com o corpo dele deixou uma ferida aberta: ela não soubera antes que era caça, não soubera que não estava em lugar seguro. Ensimesmou. Comia pouco, saía pouco, ficava pouco tempo perto das outras crianças da rua. Escondia-se, receosa de ter de lidar de novo com sal que derrete caramujo. Via os moleques jogando futebol debaixo de chuva, enlameados, felicidade pingando na ponta do pé. Não se movia de si. Tinha treze anos de idade e uma tristeza gigantesca sobre os ombros. Treze anos de idade e sentia algo de profundamente sujo em seu corpo. E a única coisa que queria era a rua de volta para si.