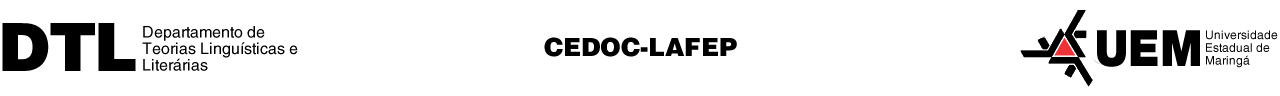Fragmentos
DE COMO NÃO CONHECI MONTEIRO LOBATO
O ano era o de 42. A cidade, São Paulo, o bairro, a Aclimação; a rua, a Diamante, paralela à Alabastro e próxima a outras ruas, que também têm nomes de pedras semipreciosas: Esmeralda, Ágata, Ônix, Turmalina, Pedra Azul.
O que eu estava fazendo numa cidade que não era minha, no número 76 da rua Diamante?
A partir da morte de meu pai, em fins de 1940, a nossa família passou por mudanças radicais. A maior parte da minha curta vida transcorrera no interior, mais precisamente, na cidade da Lapa, no Paraná. A bem da verdade, é bom que se diga que eu não era uma matuta, do fundo do mato. Eu já frequentara, por quase dois anos, um internato em Curitiba, o Colégio Cajuru, das irmãs de São José. O novo colégio paulista, onde eu estava matriculada, repetia o padrão do colégio francês e, deste lado, não havia surpresas. Mas eu tinha que enfrentar novas colegas de um segundo ano ginasial. As meninas da minha sala de aula já estavam ambientadas, já tinham suas amigas preferidas, já estavam acomodadas num imutável e sólido cotidiano do qual eu estava, automaticamente, excluída. Os recreios me pareciam intermináveis, ninguém me procurando para brincar ou, simplesmente, conversar. Uma adaptação difícil porque eu tudo interiorizava, não procurando nenhuma ajuda junto dos adultos. A educação repressiva impunha um dever sagrado: “não incomodar” os mais velhos, não causar problemas.
Nesse semi-isolamento em que transcorriam os meus dias, o jeito era estudar e estudar; ler e sonhar.
Logo a rotina se impôs: eu passava as manhãs fazendo as tarefas da escola, almoçava por volta das onze e meia e caminhava até o colégio, que ficava na Rua da Glória. Era um exercício a que eu me submetia voluntariamente, acreditando diminuir os contornos rechonchudos da minha silhueta de adolescente, e não por motivos de economia doméstica.
Nos fins de semana, a missa na igreja da Praça João Mendes e, após o tradicional almoço de macarrão com posta ou rosbife, uma tarde inteira nos cinemas. Retorno melancólico por volta das seis horas, enfrentando as filas de ônibus da Praça da Sé, filas que a guerra criou, acostumando-nos à disciplina. Às vezes, parávamos junto à banda do Exército da Salvação e minha irmã cantava hinos com eles, por pura diversão.
Os dias somaram semanas e meses. Só lá pelo meio do ano eu consegui uma amiga fiel, uma menina como eu de tradicional família, só que de família mineira. Era a Marina Lia, calma e confortadora presença no colégio, depois em nossas respectivas casas.
A esta altura da minha vida, 14 para 15 anos, eu já me tornara uma leitora adulta, ainda que vigiada pela censura familiar. Até me permitiram ler livros da Coleção das Moças, que não tivessem estrelinhas após o título (as estrelinhas eram uma garantia de que não havia nenhuma cena de sexo explícito – se bem que este tipo sexo acontecia, por exemplo, com um par amoroso que se perdia numa caverna durante oito dias e lá ficava, comendo chocolates, até serem encontrados e o “explícito” da aventura nunca era relatado). Há algum tempo eu vinha, não propriamente burlando, mas simplesmente ignorando as restrições impostas pelo meio familiar. Isto aconteceu na fase de quase total abandono em fui deixada após a morte de meu pai quando, esgotados todos os livros permitidos, comecei a ler Alexandre Herculano e Camilo Castelo Branco, e a traduzir contos e reportagens de velhos números da Ilustração Francesa, herança do meu avô, e até mesmo um velho exemplar do Télémaque, de Fenelon. Hoje eu me pergunto o que compreendi da prosa clássica e árdua de Herculano, o que absorvi dos dramas camilianos, com Amor de Perdição e outros, o que conservei dos sábios conselhos recebidos pelo jovem grego. Lia, de dicionário em punho, fascinada pelas palavras novas, misteriosas, e me sentindo enredada pela difícil sintaxe. Talvez esse aprendizado forçado tenha-se constituído num curso preparatório para a leitura de Saramago, no qual mergulhei com prazer, muitos anos mais tarde, a partir do Memorial do Convento. Mas, naquele tempo, era apenas curiosidade e um outro tipo de fome: a de conhecimento. Quanto ao francês, eu me servia das aulas do colégio e do dicionário bilíngue.
Esses fatos são anteriores à nossa mudança, quando o tempo e a vida me pareciam parados à minha volta, na nossa triste casa sem pai.
Naquele ano de 1942, já instalados em São Paulo, enfrentávamos alguns racionamentos, como o de gás e o de gasolina (o gasogênio – um teste de paciência para os motoristas), o que dificultava ainda mais a nossa adaptação. Os inquilinos anteriores quase não comiam em casa e, em consequência, a nossa cota de gás era mínima. Minha mãe, acostumada a cozinhar feijão todos os dias, na panela de ferro e no fogão a lenha, foi obrigada a improvisar um fogareiro a carvão no quintal, aonde se chegava por uma escada de muitos degraus. E a nossa devotada empregada ficava correndo da cozinha para o quintal, descendo e subindo, e se esbofando para que o feijão não queimasse.
Do alto dessa escada de serviço, assim como das janelas do quarto dos fundos, enxergávamos a rua paralela à Diamante, logo abaixo. Era a Rua Alabastro. A casa geminada da Diamante, onde morávamos, ficava no mesmo plano da rua, mas a parte de trás mergulhava num declive bastante acentuado, com porão habitável, permitindo a visão de algumas ruas, e até mesmo um vislumbre das árvores do Jardim da Aclimação.
Certa manhã, quando eu esperava, impaciente, pelos quitutes da Josefa, alguém, talvez o meu cunhado, falou, despreocupadamente: “Está vendo a casa lá em baixo? Ali mora o Monteiro Lobato”.
Meu coração disparou. Tentei localizar melhor, mas só via os fundos de uma casa, se não me engano, pintada de amarelo.
Como já disse, minhas leituras, nesta época, eram mais adultas, mas a pretexto de ler para os meus sobrinhos, continuava a me deliciar com as Reinações de Narizinho, As Caçadas de Pedrinho, A Gramática da Emília, O saci.... Quando eu começava uma frase, poderia fechar os olhos e continuar a leitura, sem hesitação, repetindo de cor e salteado trechos inteiros de Monteiro Lobato.
Não sei quando o Lobato entrou em minha vida. Alfabetizada aos sete anos com o livro – como nós o chamávamos – do V VAQUINHA, aos oito eu já lia bastante. Meu pai fazia vir livros para ele e para os filhos através do reembolso postal. Na estante verde, do nosso quarto de criança, ficavam os livros infantis: Contos da Carochinha, Sindbad, o Marujo, As aventuras do Barão de Munchausen, entre outros, e a coleção lobatiana, que aumentava a cada remessa. Logo vieram os livros da coleção Terramarear, todas traduções, creio, de Lobato. Na estante rosa, ficavam os livros da Coleção das Moças, os policiais de Edgar Wallace, os livros de Humberto Campos, que minha irmã mais velha nos legou ao casar (todos editados pela Companhia Editora Nacional?).
Naquele, hoje tão longínquo, ano de 42, trouxe-me a evocação dos meus livros, que tinham ficado nas estantes verde e rosa da velha e querida casa, que ainda era nossa, e para a qual voltaríamos nas férias de verão.
A partir daquele momento, passei a vigiar a residência de Lobato e a imaginar como seria o nosso encontro, o que eu poderia dizer para aquele que, com os seus personagens, povoara o imaginário de minha infância livre e feliz.
Durante o curso primário, na minha cidade natal, as freiras do colégio torciam o nariz para o meu autor preferido, sendo o alvo principal a História do Mundo para as crianças, por causa da explicação científica do começo do mundo, sem nenhuma concessão à Bíblia. Ainda que estivesse acostumada a me submeter aos adultos e a obedecer; quando se tratava do meu autor preferido eu não transigia, simplesmente deixava falar; sem sentimento de culpa, nem vontade de confessar esta rebeldia ao padre. No Colégio, eu era obrigada a ouvir a História Sagrada (que era uma espécie de versão edulcorada da Bíblia) e biografias de santos, tão bonzinhos e tão santos que até nos faziam rir. Mas, em casa, eu me reservava o meu Monteiro Lobato e, por extensão, os demais livros traduzidos e, até, somente editados por ele. Foi assim que li, pelo menos vinte vezes, o Huckleberry Finn e As aventuras de Tom Sawyer, misturando o bom humor de Mark Twain com os lances engraçados dos personagens do Sítio da Dona Benta e aceitando os livros da coleção Terramarear e os da Coleção das Moças como se viessem, todos, sem exceção, da pena mágica de Lobato. E as leituras se faziam até em cima das árvores, em todas as horas em que não havia brincadeiras e, sobretudo, quando as dores de garganta, tratadas com azul de metileno, obrigavam a um repouso prolongado.
Anos mais arde, como bibliotecária, fui, por algum tempo, chefe da seção infantil da Biblioteca Pública do Paraná. Finda a ditadura Vargas, que perseguiu Lobato sem piedade, ele continuou sendo atacado e exaltado, ao sabor da moda e dos pseudopedagogos. Houve um tempo em que “estudiosos” desaconselharam sua leitura pelas crianças. As alegações eram as mais variadas, desde acusa-lo de induzir as crianças a um comportamento anarquista, até a lançar dúvidas sobre sua sintaxe. Como profissional, eu recebia todas as publicações, mas não tinha nem meios, nem coragem, de discuti-las. Eu me comportava, mais ou menos, como no meu tempo de criança: ignorava as críticas – se bem que me sentisse até ofendida – mas preservava intacta a imagem de Lobato, com devoção sem limites.
Quando os episódios de O Sítio do Pica-Pau Amarelo foram para a televisão, assisti a um ou outro; logo me dei conta de que seria melhor conservar as imagens engendradas na infância, enriquecidas que foram pelas ilustrações de Belmonte.
Em 1942, eu queria apenas contar um pouco da minha vida de criança a Monteiro Lobato. Eu tinha plena liberdade para sair, ainda mais para ir tão perto da nossa casa. Mas apenas me decidia, eu começava a suar frio, o estômago apertava e eu perdia a coragem. A timidez me tolhia (seria apenas a timidez, me pergunto hoje, ou receio de parecer muito infantil?). Se tivesse pedido para minha irmã e meu cunhado, certamente eles teriam me levado até o escritor. Não fiz também nenhuma confidência para minha amiga preferida, a Marina Lia. A inibição foi mais forte.
A guerra já era uma ameaça visível. Fomos obrigados a fazer exercícios de blecaute. Para nós, as crianças, era uma espécie de brincadeira noturna aquela de vedar todas as janelas, quando soava a sirene. A mínima réstia de luz, vista de fora, colocaria em risco toda a população de São Paulo, diziam. Eu me surpreendia com a revelação de que a ponta de um cigarro aceso chamaria a atenção de um piloto, lá em cima, resultando em uma descarga de bombas sobre nós, como víamos nos românticos filmes de guerra de Hollywood. Sentia-me como uma estrela de cinema, ameaçada pelos terríveis nazistas.
A vizinha da frente contava para minha mãe, diariamente, os lances da batalha de Stalingrado, que me eram repassados, tão logo eu chegava do colégio. O rádio transmitia a história da Aleluia Cigana, e, tanto a novela radiofônica, quanto a batalha de Stalingrado ou o blecaute, eram pretextos para que minha mãe chorasse a sua viuvez inconsolável.
Nesse ambiente, festejei modestamente os meus 15 anos, quando ganhei um par de patins, que me encantaram mais do que a medalha de marcassita – presente obrigatório para essa data importante no calendário de uma menina. Aprendi logo a patinar e sonhei que Monteiro Lobato aplaudia a minha habilidade.
Mas continuei sem coragem de ir conversar com ele. Quantos diálogos imaginei, quantas coisas eu lhe contei na minha simplicidade um tanto infantil, apesar da idade.
Entretanto, seria pedir demais à minha mãe que se conformasse com a perda do seu querido marido e companheiro, de um lado, e do seu fogão a lenha, de outro. Assim, retornamos ao Paraná em 1943, mais precisamente, a Curitiba. Logo eu estava estreando o meu primeiro vestido de baile e festejando a formatura do ginásio. Mais ou menos encaminhada para as “prendas domésticas”, continuei, contudo, reivindicando mais cursos e mais estudo.
Em agosto de 1945 (a data está lá, escrita por mim), comprei Urupês, outros contos e coisas, uma “Edição Ônibus” (acho que foi a minha primeira compra de livro como adulta) e que conservo na minha biblioteca até hoje – apesar das mudanças de espaços, de status, de profissão e até de estado civil. Na época, eu estava mais impressionada pelo Bocatorta (foi o conto que mais me marcou) do que pelo conjunto da obra de Lobato.
A vida rolou, com seus altos e baixos. Profissionalmente, os livros faziam parte do meu cotidiano, mais do que nunca. Infelizmente, o casamento não me trouxe filhos para quem pudesse ler os meus autores preferidos. Transferi esta alegria para um ou outro sobrinho, sempre atenta às reações deles ao “meu” Lobato. Nesta tentativa, tive algumas alegrias, mas, também, decepções.
Assim, quando, no fim de 1997, o projeto Monteiro Lobato veio a público, a minha memória evocativa (própria da idade) ferveu e se agitou. O coração também bateu mais forte e eu achei que seria o momento de resgatar o episódio e homenagear, ainda que tarde, o meu autor preferido.
Li atentamente “Monteiro Lobato: furacão na Botocundia”. Confrontando as datas, isto é, as informações posteriores ao meu nascimento, em 1927, tentei estabelecer uma espécie de paralelo entre a minha vida e a da Monteiro Lobato. Sofri novamente relembrando sua prisão – fato pouco divulgado pela ditadura Vargas. Fixei-me no que seria, para mim, a data principal, isto é, o ano de 1942. Nada encontrei, a não ser o lançamento de A Chave do Tamanho e de algumas traduções. Dentro do contexto que estabeleci, a informação mais importante me veio da foto da página 340, que confirma o seu endereço, na rua Alabastro. Segundo a legenda: Monteiro Lobato recuperando-se de uma intervenção cirúrgica (em 1945?). Apenas isto, nada que pudesse me levar ao ano de 42, a qualquer fato, a qualquer detalhe que me revelasse um pouco da vida de Lobato, meu vizinho... A janela da foto é exatamente igual à da nossa casa da rua Diamante, igual a muitas outras janelas dos sobrados geminados da Aclimação, na época.
Em todo o livro, nem uma vez, encontrei o ano de 1942.... Parece manobra esotérica, castigo tardio dos deuses, carma...
Lembro as cartas enviadas por crianças, eu me perguntei por que eu não ousei fazer o mesmo.
Olhei, com atenção e carinho, as reproduções das antigas capas de livros infantis, dos “meus” livros e, decorridos tantos anos, experimentei, de novo, uma doce alegria, uma volta aos anos felizes da infância, num velho e confortável casarão, quando a preocupação maior era fazer os deveres de casa antes de montar a cavalo, subir em árvores e brincar nos grandes espaços que me rodeavam.
Continuei ainda a “procurar Lobato” vivendo o ano de 42, na obra Whitaker Penteado, Os filhos de Lobato, livro que tem uma abordagem diferente, e que me trouxe subsídios sobre a sua obra, mas nenhum fato novo veio elucidar a minha estranha busca.
Sem dúvida, sou uma filha de Lobato. Acredito na Utopia. Com ele aprendi um ufanismo irreverente e desenvolvi uma saudável revolta contra a injustiça e os erros do mundo. Muito me orgulho das influências recebidas e de pertencer à primeira geração dos descendentes de Monteiro Lobato.
Mesmo que não tivesse podido estabelecer qualquer conexão entre Monteiro Lobato e a minha vida no bairro da Aclimação, naquele longínquo ano de 1942, sou grata pelas comemorações do seu centenário. Através delas, revivi momentos agradáveis e fui levada a lhe prestar, eu também, através destas lembranças, a minha sincera, ainda que tardia, homenagem.
(Retirado da obra A lida da goiabada, 2000).