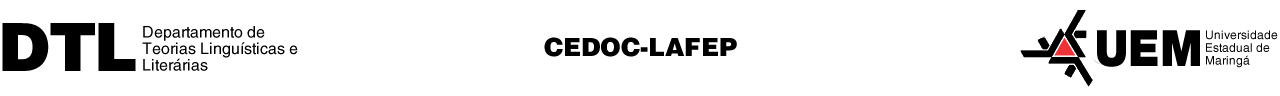Fragmentos da obra
Olho Mágico - Francine Cruz (Conto)
De dentro de seu apartamento, controlava o mundo. Todo um universo através de lentes cilíndricas em altura confortável na segurança da oclusão. Que as imagens fossem ovaladas e distorcidas, pouco importava. Ao mínimo sinal de movimentação corria para averiguar: o barulho de uma chave girando na fechadura, o clique do botão do elevador sendo acionado, roldanas e polias em ação ascendente ou descendente soavam como música para seus ouvidos, um prazer sinestésico, quase palpável. Eram sete vizinhos e cada qual tinha suas particularidades. Os habitantes do 401 eram praticamente um casal, passavam o dia gritando um com o outro, se xingando e reclamando. A velha parecia ter duzentos anos, e o papagaio, 201. Apesar de seu apartamento ser o mais distante, o corredor inteiro ouvia, sem outra opção, as calorosas discussões entre os dois. Num caso de amor peculiar, a velha, caquética, quase não saía de perto dele por muito tempo. Só quando o bingo era dos bons, deixava João. Envolto em um casaquinho de crochê, na sua poltrona favorita, com sementes de girassol à vontade e a televisão ligada, para ele não se estressar.
Ao lado dos bicentenários, no 402, morava – se é que se pode dizer isso de alguém que passa mais dias no ano fora de casa do que dentro – um rapaz solteiro sobre quem pouco sabia, muito imaginava. A decoração era minimalista, com alguns objetos de design moderno espalhados aqui e ali. O corpo magricelo usava roupas
descontraídas, porém elegantes. Gay, na certa. As alpargatas não mentem, jamais. Era DJ e trabalhava em navios, ouviu ele falar ao celular. Deveria conhecer muitos países, falar várias línguas, viver aventuras incríveis. Seria um vizinho interessante se passasse mais tempo em seu apê.
Ainda do outro lado do corredor, onde sua visão era reduzida, o 403 e 404 abrigavam famílias antagônicas. No primeiro, vivia a família comercial de margarina.
Papai, mamãe, filhinho e filhinha bonitos, saudáveis, simpáticos. E com dinheiro sobrando, já que todo final de semana o homem fazia churrasco na sacada com os
amigos. Nunca brigavam, dava até raiva. Os filhos, bem-educados, ajudavam a velhinha a carregar as sacolas da feira e seguravam a porta do elevador para os vizinhos. Diziam obrigado e com licença pra tudo, pareciam miniadultos adestrados, um saco. No segundo, morava um casal cuja educação e bom senso passavam longe do bem-estar coletivo. Sem filhos, a dondoca andava pra cima e pra baixo com o cachorrinho. A Bebezuda do Tigrão devia ser analfabeta, pois a lei do condomínio era clara ao especificar que cães deveriam ser conduzidos pela escada e ela insistia em ir pelo elevador, impregnando o ambiente – claustrofóbico por natureza – de um odor nada aprazível de cão. Ninguém é obrigado a ficar em um metro quadrado fechado com um cachorro na fuça ou nas pernas. E o povo não gostava de encontrá-la pelo caminho, as caras feias saindo do elevador quando ela estava junto eram de praxe. De sua parte, detestava cachorros e dondocas, não conseguia nem dizer bom-dia pra essa indivídua. O marido dela não ficava atrás. Militar aposentado, vivia ocupando vaga de garagem alheia. Com dois carros e apenas uma vaga, o espertinho ficava de olho nos apartamentos vazios para usurpar o espaço. Só que os donos dos imóveis apareciam de vez em quando, e aí estava feita a confusão. Ele não se abalava, saía da vaga na maior tranquilidade e parava de novo na primeira que estivesse disponível no estacionamento.
Isso era visível pela janela mesmo.
Ser espectador da existência alheia não era uma tarefa tão simples quanto pode parecer. Requer paciência, obstinação. Às vezes, o corredor permanece horas em completa escuridão, o sensor para iluminação em repouso, sem qualquer presença a ser detectada. Ficar em pé atrás da porta também não era fácil, sem falar na habilidade de se enxergar por um olho só. A experiência lhe ensinou que um tapa-olho e uma banqueta de bar eram acessórios indispensáveis para um voyeurismo confortável.
O gostoso é a excitação que isso lhe provoca. A expectativa de ver a escuridão silenciosa sendo profanada pela luz, a ansiedade por saber se é um homem ou uma mulher, um visitante ou o morador, o gozo quando alguém deixa que se descubra mais sobre ele através de seus comentários, da decoração da sua casa ou até mesmo por aquilo que comeu na janta. Entregadores de comida eram uma constante no condomínio. E também havia as sacolas de lixo, que dizem muito sobre uma pessoa, como por exemplo, que sua vizinha é intolerante à lactose.
Por falar nela, vamos ao seu lado do andar, então. É o mais incrível, sem dúvida. Até porque o acesso às informações é melhor. A intolerante é evangélica, casada com um evangélico, óbvio. Moram no 405 com quatro filhos e, vira e mexe, produzem assuntos interessantes. Quase nunca estavam juntos, começava por aí. Quando um saía, outro ficava. E se era o homem que ficava, tinha cantoria de hinos, na certa. Pela falta de habilidade do varão com o instrumento, presumiu que ele ainda estava aprendendo a tocar teclado, dedicando-se pelo menos uma hora do dia a isso. Notou também que se os acordes começavam assim que a mulher virava as costas – nunca soavam se a esposa estivesse em casa. E era fácil saber quando ela saía ou chegava. Era a única do andar que tinha o hábito de usar sapatos de salto alto. Combinavam melhor com os vestidos e saias que completavam seu figurino cotidiano.
Os dois brigavam sempre. Entre si e com os filhos. Pelas contas que tinham que pagar, pela toalha molhada em cima da cama, pelo rasgo no sofá. Gritavam cada palavrão de doer os ouvidos (dos outros, claro). Fora o choro estridente das crianças que se beliscavam o dia inteiro e os berros indiscretos de “pronto, mãe” avisando o prédio inteiro que a progenitora podia ir limpar seus respectivos traseiros.
Os três arcanjos e a Rutinha não davam folga pros pais e, quando passavam dos limites, a cinta comia solta. Então as crianças murchavam, indo dormir de rabo quente e papai e mamãe consolavam um ao outro dizendo que “foi Deus que quis assim”. Só então saíam juntos. Iam pela escada, sabe-se lá pra onde (talvez ficassem por ali mesmo) e voltavam minutos depois, abraçados e com um sorriso maroto nos lábios. O 406 estava vazio. Tinha sido vendido e estava sendo reformado, mas já dava pra saber que o dono tinha mal gosto. Sua porta era frente a frente com essa e era impossível não ver aquela agressão azul-marinho na sala. Por que diabos alguém usa uma esponja para fazer ondinhas ridículas numa parede que era linda toda branca? Sem falar no capacho, que confirmava a breguice: “Aqui mora uma família feliz”. E nem moravam ainda.
O seu era o 407, um pequeno apartamento de dois quartos, com paredes úmidas, piso de carpete verde-musgo e acentuados móveis coloniais em que habitava sozinho há décadas e de onde se alimentava de outras existências.
Finalmente no 408, o último morador do andar. Sabia dele que era outro lobo solitário, que trabalhava em casa, lia cinco tipos de jornais diferentes e recebia muita correspondência. Só não sabia que ele também era um vampiro que usava a vida alheia para escrever suas histórias. E que não ousem copiar, publiquei primeiro.